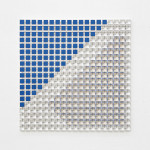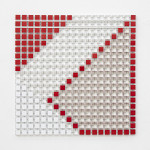“Variações sobre paisagem” é o título da exposição de pinturas de Rodrigo Andrade, na Paulo Darzé Galeria, Salvador, BA, a partir do dia 07 de outubro, com temporada até o dia 06 de novembro, podendo ser visitada, sem agendamento, no horário de funcionamento da galeria, de segunda à sexta, de 9h às 19h, e aos sábados de 9h às 13h.
A mostra pode também ser vista virtualmente, acessando o endereço @paulodarzegaleria nas redes sociais Facebook e Instagram, ou o site www.paulodarzegaleria.com.br, onde serão encontradas todas as imagens das obras e o catálogo da exposição.
Quanto ao dia do lançamento, 07 de outubro, a visitação do público será das 17 às 21 horas, seguindo o protocolo do uso obrigatório de máscara, sem serviço de bebidas alcoólicas, e estará aberta das 17 às 21 horas.
A exposição “Variações sobre paisagem”, de Rodrigo Andrade, é composta de 33 trabalhos em óleo sobre tela, sobre mdf, ou em óleo sobre cartão, em dimensões variadas, tem como apresentação texto do crítico José Bento Ferreira:
“O rápido desenvolvimento dos centros urbanos e o impacto dos avanços tecnocientíficos a partir da segunda metade do século dezenove alteraram os posicionamentos dos artistas acerca das relações produtivas e da interação humana com o meio ambiente. Nas primeiras décadas do século 21, enfrentamos uma situação análoga, não apenas pela intensificação da exploração do trabalho e da natureza, mas também devido à acelerada difusão dos meios eletrônicos de comunicação. Ao impor determinados formatos de socialização e monitoramento, os dispositivos digitais reconfiguram a mobilidade, os relacionamentos, a memória e o próprio modo de se estar presente em algum lugar”.
“As imagens surgiram como presenças que demarcam ausências e que, em determinados lugares, promovem trocas de olhares com os que já não estão. Conforme passamos os dedos pelas telas dos dispositivos eletrônicos, os rostos sem olhar, que aparecem momentaneamente por meio de mensagens e notificações, distraem a atenção para longe de onde estamos para outro lugar. Ao contrário das imagens físicas, que necessariamente estão em algum lugar, as imagens digitalizadas estão em toda e em nenhuma parte, pois habitam, nas nuvens do ciberespaço, um “não-lugar”, conforme os antropólogos denominam os locais de passagem, caracterizados pela hipervisibilidade e pela ausência de signos identitários relevantes, como aeroportos e terminais viários, por exemplo. Submetidos a um regime sob o qual somos convocados a responder aos chamados das telas a cada minuto, fomos condenados a nunca estar atentos onde estamos. As paisagens de Rodrigo Andrade exercem um contraponto a essa desterritorialização automatizada. Não apenas convidam, como toda obra de arte, a uma contemplação duradoura e a uma imersão reflexiva, cada vez mais rara na época da avaliação visual instantânea, mas também proporcionam uma experiência de fruição que se configura como acontecimento, uma vez que muda o modo como vemos a própria pintura. Rodrigo Andrade faz da pintura de observação a reafirmação de uma modalidade de presença que a cultura digital agride”.
Trajetória
Rodrigo Andrade nasceu em 1962, São Paulo, SP. Vive e trabalha em sua cidade natal. A materialidade da tinta e referências sobre a história da pintura permeia o trabalho de Rodrigo Andrade. Sua gestualidade vibrante manifesta-se, sobretudo na pintura, mas também transita por suportes como desenho, gravura e objetos. Nos anos 1980, o artista integrou o grupo Casa 7 e, sob a influência do neo-expressionismo alemão, sua obra é apresentada em grandes formatos, com pinceladas expressivas e cores fortes. Na década seguinte, alternou trabalhos figurativos e abstratos e, a partir de 1999, passou a criar obras em que espessas massas de tinta a óleo, em formas geométricas, são aplicadas sobre a tela. Ele instalou suas pinturas matéricas de cor e forma em espaços públicos de São Paulo, e em seu contato com esses entornos é que reside sua potência: há uma permeabilidade entre a concentração e a contenção dos elementos presentes nos trabalhos do artista e nos ambientes nos quais foram instalados.
Sobre o artista
Rodrigo Andrade realizou mostras em importantes instituições nacionais e internacionais. Entre as individuais recentes, destacam-se: Pinturas da era do absurdo, Galeria Millan, São Paulo (2020); Diálogo cromático, Galeria Simões de Assis, Curitiba, PR (2019); Pintura e Matéria (1983-2014), Estação Pinacoteca, São Paulo, SP (2017); Pinturas de Estrada, Centro Universitário Maria Antonia, São Paulo, SP (2013); Pinturas: Seleção 99-06, Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte, MG (2006); e Paredes da Caixa, Museu da Caixa Cultural, São Paulo, SP (2006). Entre suas participações em exposições coletivas, estão: 1981/2021: Arte Contemporânea Brasileira na Coleção Andrea e José Olympio Pereira, Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, RJ; Já estava assim quando eu cheguei, Galerie Ron Mandos, Amsterdam, Holanda (2020); Oito décadas de abstração informal, Museu de Arte Moderna de São Paulo, SP e Cependant, la peinture: Rodrigo Andrade, Fabio Miguez, Paulo Monteiro, Sérgio Sister, Galerie Emmanuel Hervé, Paris, França (2018); Troposphere, Beijing Minsheng Art Museum, Pequim, China (2017); Pequenas Pinturas, Auroras, São Paulo, SP (2016); Pivô, São Paulo, SP (2015); Deserto-Modelo “As Above, So Below”, Harold St., Londres, Reino Unido (2015); Iberê Camargo: Século XXI, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, RS (2014); Lugar Nenhum, Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, RJ (2013); 30 x Bienal, Pavilhão da Bienal, São Paulo, SP (2013); e 29ª Bienal de São Paulo, SP (2010). Em 2008, foi publicado o livro monográfico Rodrigo Andrade, que reúne seus trabalhos desde 1983 (Editora Cosac Naify). Sua obra integra importantes coleções públicas, como do Museu de Arte de Brasília, DF; Instituto Cultural Itaú, São Paulo, SP; Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte, MG; Museu de Arte Moderna de São Paulo, SP; Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP; Museu de Arte Contemporânea de Niterói, RJ; além de coleções particulares.
Texto de José Bento Ferreira
O rápido desenvolvimento dos centros urbanos e o impacto dos avanços tecnocientíficos a partir da segunda metade do século dezenove alteraram os posicionamentos dos artistas acerca das relações produtivas e da interação humana com o meio ambiente. Nas primeiras décadas do século 21, enfrentamos uma situação análoga, não apenas pela intensificação da exploração do trabalho e da natureza, mas também devido à acelerada difusão dos meios eletrônicos de comunicação. Ao impor determinados formatos de socialização e monitoramento, os dispositivos digitais reconfiguram a mobilidade, os relacionamentos, a memória e o próprio modo de se estar presente em algum lugar.
As imagens surgiram como presenças que demarcam ausências e que, em determinados lugares, promovem trocas de olhares com os que já não estão. Conforme passamos os dedos pelas telas dos dispositivos eletrônicos, os rostos sem olhar, que aparecem momentaneamente por meio de mensagens e notificações, distraem a atenção para longe de onde estamos para outro lugar. Ao contrário das imagens físicas, que necessariamente estão em algum lugar, as imagens digitalizadas estão em toda e em nenhuma parte, pois habitam, nas nuvens do ciberespaço, um “não-lugar”, conforme os antropólogos denominam os locais de passagem, caracterizados pela hipervisibilidade e pela ausência de signos identitários relevantes, como aeroportos e terminais viários, por exemplo. Submetidos a um regime sob o qual somos convocados a responder aos chamados das telas a cada minuto, fomos condenados a nunca estar atentos onde estamos. As paisagens de Rodrigo Andrade exercem um contraponto a essa desterritorialização automatizada. Não apenas convidam, como toda obra de arte, a uma contemplação duradoura e a uma imersão reflexiva, cada vez mais rara na época da avaliação visual instantânea, mas também proporcionam uma experiência de fruição que se configura como acontecimento, uma vez que muda o modo como vemos a própria pintura. Rodrigo Andrade faz da pintura de observação a reafirmação de uma modalidade de presença que a cultura digital agride.
Frequente na pintura antiga e oriental, a natureza ressurge como pano de fundo de ações na pintura italiana. Na Legenda de São Francisco (Giotto di Bondone, 1300), a paisagem urbana aparece como lugar da futilidade, onde todos estão fora de si mesmos e a cidade está infestada por demônios. No ermo da paisagem rural, porém, ocorrem gestos milagrosos e encontros com o divino. Na Alegoria do bom e do mau governo (Ambrogio Lorenzetti, 1338), por sua vez, invertem-se os sinais dos enunciados produzidos pelas pinturas sobre a cidade e o campo. Uma cidade bem administrada apresenta atividades econômicas pulsantes. Homens e mulheres circulam livremente para dentro e fora das fronteiras. A paisagem rural estende-se, não como um lugar ermo onde ocorre o milagre, mas como consequência de políticas públicas salutares. Tanto a mobilidade e a vivacidade que caracterizam o bom governo quanto à violência e o medo que predominam no outro lado da Alegoria apenas remotamente se devem a fatores teológicos. Os afrescos do Palácio Público de Siena confrontam os da Basílica de Assis com uma versão secular do contraste entre a cidade e o campo.
Tão atento ao elitismo do mundo da arte quanto às referências históricas da pintura, Rodrigo Andrade participou do projeto Ali Leste de ensino de artes em Cidade Tiradentes, no extremo leste da capital paulista, e produziu a exposição Um lugar, lugar nenhum (Galeria Marília Razuk, 2021), com pinturas de paisagens e observações feitas por artistas do centro e da periferia na região onde atua a “escola nômade”. Desde Courbet, Monet, Cézanne e Van Gogh, a atitude de pintar ao livre para captar uma pura sensação visual reafirma a autonomia do artista em relação ao meio de arte e torna a pintura capaz de registrar uma visão pré-reflexiva, inacessível no interior do estúdio, onde o desenho dos objetos representados tende a ser enquadrado por categorias, ao passo que, no calor da hora, sob a intempérie e com uma paleta restrita, o contato direto com a natureza produz uma experiência intuitiva do espaço. A própria pintura abstrata, da qual Rodrigo Andrade também é contumaz praticante, é devedora da revolução impressionista, uma vez que as relações entre formas e campos de cor também resultam da dimensão pré-reflexiva desbravada pela pintura ao ar livre.
Os lugares visitados por Rodrigo Andrade e seu grupo para a retomada dessa prática artística moderna estão entre a cidade e o campo. Centros urbanos modernos possuem “zonas de vazio”, conforme os antropólogos denominam certos correlatos dos “não-lugares”, áreas ermas incrustadas na cidade. No Brasil, a urbanização ao mesmo tempo precária e acelerada provocou um descompasso entre a estruturação do tecido urbano e o afluxo de imigrantes, de modo que apenas para perfis socioeconômicos privilegiados é possível atribuir a condição de sociedade propriamente urbanizada. Em São Paulo, populações inteiras não deixam as regiões periféricas onde residem senão a trabalho e somente participam da urbanização exercendo funções subalternas.
Rodrigo Andrade encontrou no mato e na quebrada da zona leste paulistana as paisagens que faziam sentido para o seu trabalho. As especificidades desses lugares e a colaboração com o artista urbano Link Museu impactam sua pintura. O artista já havia se deixado levar pelas pinceladas de um outro ao produzir versões para as pinturas de Ranchinho, o “Van Gogh de Assis”, em 2012. A troca com Link Museu, porém, é diversa, pois se trata de caminhar juntos e não seguir os passos de alguém. Em incursões para a pintura de observação ao ar livre, parcerias em galerias e ateliê, a dupla reata o apuro técnico à capacidade de encontrar valores pictóricos no tecido urbano.
Essa “partilha do sensível” entre o artista culto e o artista urbano transparece nas paisagens de Rodrigo Andrade que descobrem a riqueza visual das zonas vazias paulistanas e a vitalidade de regiões aparentemente áridas do cerrado brasileiro, confundindo os valores estabelecidos pelas referências de Giotto e Ambrogio. Não há encontros com o divino, mas uma tonalidade ígnea em contraste com a obscuridade dominante. Em monturos, poças e córregos, a pintura descobre uma consistência de magma que arde e pulsa em meio ao verde turvo e noturno do matagal em Terreno baldio e Terreno baldio II. Nestas pinturas é possível observar o uso de compactas massas de tinta que marca a obra de Rodrigo Andrade, utilizadas com apuro e parcimônia, formando figuras semelhantes a arabescos e ornamentos em contraste com as formas regulares das janelas com luzes acesas que salpicam a escuridão da região desprovida de iluminação pública. Uma área abandonada e negligenciada pelo poder público foi transformada em “horta urbana” por Link Museu e seus companheiros. O lugar tornou-se um ponto de encontro e convivência improvisado. A Vista da horta urbana de Rodrigo Andrade explora a irregularidade do terreno, caracteriza um mundo sem planos, linhas, nem retas. A presença difusa de torres de eletricidade e fiação elétrica põe-se em contraste com o verde vivo da folhagem, como se o progresso tecnológico apenas passasse por esse espaço a serviço de outras paragens, secando as árvores por onde passa.
Ainda assim, apesar dessa recusa do desenvolvimento urbano como algo distante da comunidade, os lugares mostrados nas paisagens de Rodrigo Andrade resultam do trabalho humano, seja a horta, os blocos de construção, ruínas ou as vistas da quebrada. O mundo humano está sempre por se fazer, por toda parte há “espaço em obra”. A irregularidade e a profusão de formas da natureza observadas em Desfiladeiro, Paredão rochoso, Despenhadeiro, Arbusto com paisagem rochosa, Rochedo e Cavernas contaminam as paisagens urbanas com uma titanomaquia entre o mineral e o vegetal encenada por pinceladas eletrizantes e as massas volumosas de tinta que, por sua vez, insinuam na pintura um flerte com a antiga linguagem do relevo. As massas constituem uma verticalidade hierática que se inclina sobre o espectador. O aparente desmoronamento dessas massas em As ondas verdes do mar sinaliza a fragilidade humana em face da resistência das coisas. No título da pintura ressoa o canto épico das Canções praieiras (Dorival Caymmi, 1954) sobre a trágica e “doce” morte que assola uma comunidade de pescadores. O que demarca as paisagens de Rodrigo Andrade não é o trabalho alienado que se configura na sociedade industrial e que a revolução digital conduz ao ápice da alienação sob o manto da autonomia. Uma solidariedade tácita reúne as vistas observadas pelos ocupantes pré-históricos da Serra da Capivara, cujas pinturas Rodrigo Andrade não apenas visitou, mas estuda com afinco, aos artistas modernos que recusam o progresso tecnológico em proveito da “segunda técnica” de práticas artísticas que favorecem vínculos comunitários e reconstituem a nossa atenção ao lugar onde estamos, como, por exemplo, a pintura de observação.
Nas duas Cavernas, áreas planas e escuras aparecem rodeadas pelas formas rochosas, barrentas, aquosas, ígneas e aéreas que compõem, com galhos retorcidos e gramíneos, um vocabulário pictórico constituído por Rodrigo Andrade em seu contato vivo com a paisagem semiárida. Nas pinturas de zonas vazias, a relação se inverte. Carros estacionados sobre aclives, moradias precárias, a cintilação das luzes domésticas e a própria constituição do espaço como mundo da vida possuem a dignidade do trabalho coletivo e da comunidade que se forma, vive e, apesar de ter sido marginalizada pelo sistema econômico, sustenta-se em meio à obscuridade que permeia. Se a experiência de expressão pictórica proporciona ao artista uma visão privilegiada, intuitiva ou pré-reflexiva, nas pinturas de Rodrigo Andrade esta visão não se transmite sem a consciência da “responsabilidade de ter olhos quando os outros perderam”, conforme a formulação do Ensaio sobre a cegueira (José Saramago, 1995). Cara à pintura italiana do trezentos e à pintura holandesa do quinhentos, a figura do anacoreta, emulada por Rodrigo Andrade no estudo O ermitão, traduz o sentimento de responsabilidade que impele o artista à partilha do sensível. O anacoreta que se retira para o ermo não vive necessariamente sozinho, mas funda uma comunidade que se quer à parte do Império. Nas pinturas de observação que revisitam o gênero da paisagem, Rodrigo Andrade propõe exercícios de “ascese desespiritualizada” para uma forma de vida resistente ao enquadramento narcísico que nos distrai do espaço ao redor e fecha nossa atenção, assim como o “mal branco” prefigurado pelo escritor português.